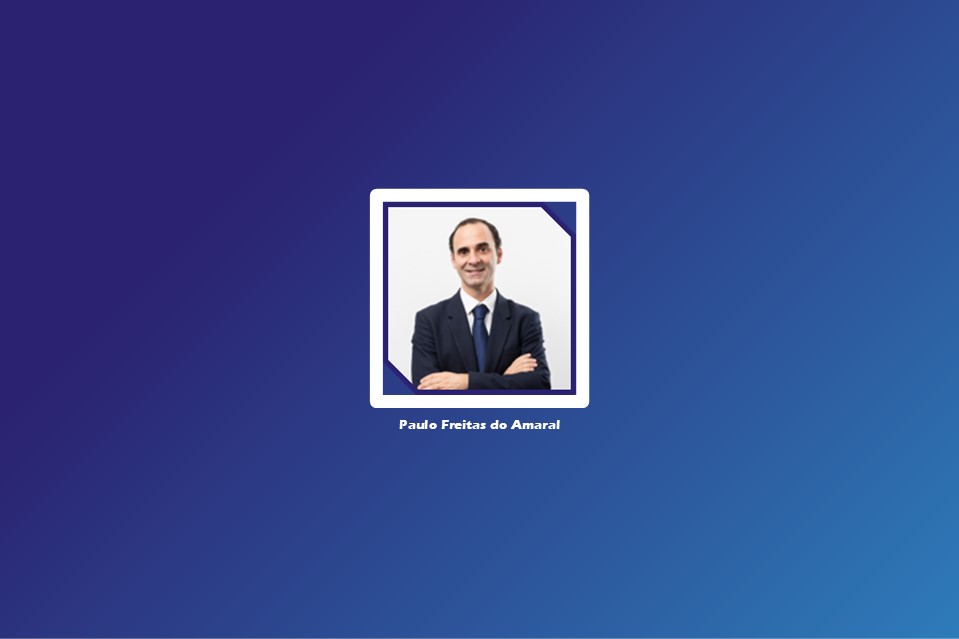
Durante décadas, o humor português conviveu com a política de forma inteligente, crítica e civilizada. Não era preciso despir presidentes nem urinar em cartazes para provocar o riso e, ao mesmo tempo, fazer pensar.
Se o parlamento português fosse uma galeria de grandes humoristas, Nicolau Breyner seria o PSD: afável, popular, com sentido prático e bom senso de palco. Herman José, com a sua irreverência sofisticada, encaixaria no PS — um centro-esquerda provocador mas institucional. Mário Viegas, culto e combativo, seria o PCP, pela intensidade e verticalidade. Raul Solnado, com a sua ternura desconcertante e moral humanista, seria o CDS que já não temos: conservador, mas civilizado. Todos eles fariam humor — mas nunca deixariam de se respeitar.
Hoje, algo mudou. O novo humor político, protagonizado por figuras como Ricardo Araújo Pereira, Joana Marques ou Bruno Nogueira, deixou de satirizar com ética e com linhas vermelhas. Passou a fazer o que a extrema-direita faz com discursos inflamados: atacar as instituições, os rostos que as representam e até a própria ideia de serviço público. Vestiram a capa da ironia para alimentar a narrativa do “anda tudo a gamar”, “são todos iguais”, “não se aproveita ninguém”, “isto é gozar com quem trabalha” — chavões que, curiosamente, são indistinguíveis dos que se ouvem nos comícios do Chega.
O exemplo não é novo. Em 2011, no auge de uma das maiores mobilizações populares da década, os Gato Fedorento viajaram até aos Estados Unidos para gravar um sketch com Steven Seagal, numa sátira aparentemente inofensiva, mas que reduzia a manifestação popular a um capricho nacionalista e folclórico. Era o início de um novo ciclo: o humor como descompressão sem consequência, desvalorizando o protesto e ridicularizando o inconformismo. O riso substituiu a indignação. E isso teve um preço.
Paulo Freitas do Amaral
Professor, Historiador e Autor
